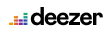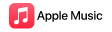Lembro-me do momento exato em que iniciei minha jornada como racionalista.
Não foi durante a leitura de Surely You’re Joking, Mr. Feynman (Com certeza você está brincando, Sr. Feynman) ou qualquer outro trabalho existente sobre racionalidade; estes eu simplesmente aceitei como óbvios. A jornada começa quando você percebe uma grande falha em sua arte atual e descobre um impulso para melhorar, para desenvolver novas habilidades além das úteis, mas inadequadas, encontradas nos livros.
Nos últimos momentos da minha primeira vida, eu tinha quinze anos e repassava uma lembrança prazerosamente hipócrita de uma época em que eu era muito mais jovem. Minhas memórias daquele tempo são vagas; tenho uma imagem mental, mas não me recordo exatamente que idade eu tinha. Acredito que teria seis ou sete anos e que o evento original ocorreu durante um acampamento de verão.
O que aconteceu naquela ocasião foi que um monitor do acampamento, um adolescente do sexo masculino, fez com que nós, meninos muito mais novos, formássemos uma fila e propôs o seguinte jogo: o garoto no final da fila rastejaria entre nossas pernas e nós o bateríamos enquanto ele passava, e então seria a vez do próximo garoto de oito anos no final da fila. (Talvez seja apenas porque perdi minha inocência juvenil, mas não posso deixar de me perguntar…) Recusei participar desse jogo e me mandaram sentar no canto.
Essa lembrança – de recusar bater e de apanhar – passou a simbolizar para mim que, mesmo nessa idade muito precoce, eu me negava a encontrar prazer em machucar os outros. Que eu não compraria uma palmada na bunda de outra pessoa ao preço de uma palmada na minha própria; não pagaria com dor a oportunidade de infligir dor. Eu me recusei a jogar um jogo de soma negativa.
E então, aos quinze anos, de repente percebi que isso não era verdade. Eu não havia recusado por uma posição de princípios contra jogos de soma negativa. Eu descobri o Dilema do Prisioneiro muito cedo na vida, mas não aos sete anos. Eu recusei participar simplesmente porque não queria me machucar, e ficar sentado no canto era um preço aceitável a pagar por não me machucar.
Mais importante, percebi que sempre soube disso – que a verdadeira lembrança sempre esteve escondida em um canto da minha mente, meu olho mental lançando um olhar para ela por uma fração de segundo e depois desviando o olhar.
No meu primeiro passo ao longo do Caminho, captei a sensação – generalizada sobre a experiência subjetiva – e disse: “Então é assim que se sente empurrar uma verdade indesejada para um canto da minha mente! Agora vou notar cada vez que eu fizer isso e vou limpar todos os meus cantos!”
Chamei essa disciplina de “pensamento único”, inspirado no duplipensar de Orwell. No duplipensar, você esquece e, em seguida, esquece que esqueceu. No pensamento único, você percebe que está esquecendo e então se lembra. Você mantém apenas um único pensamento não contraditório em sua mente de cada vez.
O “pensamento único” foi a primeira nova habilidade racionalista que criei, sobre a qual não havia lido nos livros. Duvido que seja original no sentido de prioridade acadêmica, mas felizmente isso não é necessário.
Ah, e o meu eu de quinze anos gostava de nomear as coisas.
As profundezas aterrorizantes do viés de confirmação continuam e continuam. Não eternamente, já que o cérebro é de complexidade finita, mas por tempo suficiente para parecer uma eternidade. Você continua descobrindo (ou lendo sobre) novos mecanismos pelos quais seu cérebro empurra as coisas para fora do caminho.
Mas o meu eu jovem varreu muitos cantos com aquela primeira vassoura.